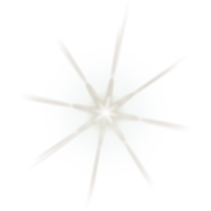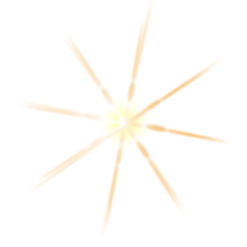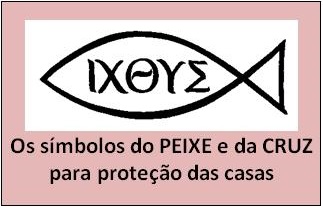Superbactérias - o poder das bactérias resistentes a antibióticos

‘As superbactérias são espécies normais, como a E. Coli ou a Klebsiella, que vivem no nosso corpo. O que elas têm de diferente são genes que as tornam resistentes a antibióticos’, define o epidemiologista Daniel J. Morgan, pesquisador da Universidade de Maryland (EUA) e autor de vários estudos sobre superbactérias.
Segundo uma estimativa publicada este ano pelo Weizmann Institute of Science (Israel), um homem de 1,70 m e 70 kg possui 30 trilhões de células humanas – e 39 trilhões de bactérias. A maioria das bactérias vive no intestino, por uma razão simples: lá tem comida, que alimenta a elas tanto quanto a você.
Mas esse equilíbrio sempre pode ser rompido. Se forem parar no lugar errado, as bactérias podem se transformar em inimigas. É o caso da Klebsiella pneumoniae – que, como seu nome sugere, causa pneumonia se for parar no sistema respiratório.
Em 3 de setembro de 1928, o biólogo Alexander Fleming notou que fungos do gênero Penicilum (um mofo comum) estavam matando as bactérias Stafilococcus, que ele criava para pesquisas. Eles produziam uma substância que dizimava as bactérias – e que Fleming batizou de penicilina. Nascia o primeiro antibiótico.
Após o surgimento desses remédios, médicos e pacientes deixaram de viver sob o terror das infecções bacterianas. ‘Quando você sabe que tem antibióticos [à disposição], relaxa um pouquinho’, afirma a médica Taís Guimarães, que foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia até o ano passado. ‘Quando você pergunta sobre higiene nos hospitais, todo mundo diz que faz o procedimento perfeito. Mas na prática, na correria, não dá tempo’, explica. De fato. O maior estudo já realizado sobre o tema constatou que, em média, apenas 48% dos procedimentos de higiene (como lavar as mãos) são seguidos pelos profissionais de saúde. Além disso, os hospitais são lugares por onde passa muita gente, que carrega cepas diferentes de bactérias e é tratada com os mais diversos tipos de antibiótico – uma combinação que pode acabar mal.
O que torna a KPC uma superbactéria não é o K ou o P, mas o C. Ele vem de ‘carbapenemase’, uma enzima que dá resistência aos antibióticos carbapenêmicos. ‘São antibióticos muito bons, eficazes contra quase todas as bactérias’, explica Morgan. Esses remédios foram descobertos em 1976 e são considerados drogas de ‘último caso’, ou seja, que os médicos só prescrevem quando o paciente já foi tratado, sem sucesso, com outros antibióticos. Esse cuidado serve para limitar o contato das bactérias com os carbapenêmicos, evitando que elas criem resistência – ou pelo menos retardando isso. Mas, cedo ou tarde, acontece. E a culpa é do mesmo fenômeno que faz com que você e eu existamos: a evolução.
Quando uma pessoa fica doente e toma antibiótico, o remédio elimina as bactérias que estão causando o problema. E também ataca outras, que vivem no intestino – e não estavam fazendo nada de mau.
Em ambos os casos, algumas bactérias podem sobreviver, porque têm uma mutação que as torna imunes ao remédio. Se a mutação acontecer entre as bactérias causadoras da doença, já era. O paciente não tem cura. Já se a mutação aparecer entre as bactérias intestinais, ninguém nem percebe. A pessoa tem alta carregando superbactérias.
É seleção natural pura. Mas, do mesmo jeito que nos tornou cada vez mais inteligentes e adaptados aos ambientes onde vivemos, a evolução também deixa as bactérias mais fortes. Elas vão ganhando resistência a mais e mais tipos de antibiótico, até que algumas se tornam imunes a quase todos. ‘Frequentemente, as superbactérias colonizam um paciente sem causar doenças’, afirma Morgan. Você pode ter pequenas quantidades delas morando dentro de você, e nem saber.
Aí, um dia, vai ao hospital fazer alguma cirurgia – de apêndice, por exemplo. Por algum descuido ou acidente, as suas superbactérias – que ninguém sabia que você tinha – vão parar na cavidade aberta ou nos pontos. Na sala de recuperação, você não se recupera. Tem febre, inflamação, pus. Médicos tentam um a um os antibióticos, e nenhum resolve. Quem é atacado pela KPC tem 50% de chance de morrer. É cara ou coroa.
Bactérias como a Klebsiella têm a capacidade de passar sua resistência para outras espécies mais virulentas e perigosas, levando o problema para fora dos hospitais. Isso porque elas são seres muito simples. As bactérias são procariontes, ou seja, seu DNA não fica concentrado num núcleo, mas espalhado pela célula. Parte dele está nos chamados plasmídeos, pequenos aros de DNA que podem passar diretamente de uma espécie para outra, na chamada transferência horizontal de genes. Isto é, um tipo de bactéria pode transferir seu ‘superpoder’ para outra completamente diferente. ‘Há transferência de genes entre diferentes espécies de enterobactérias’, afirma o microbiólogo Patrice Nordmann, da Universidade de Fribourg (Suíça).
A KPC está longe de ser a única superbactéria. Antes de ela ganhar as manchetes, o noticiário focava outra espécie particularmente tétrica: a MRSA, ou Staphylococcus aureus resistente à meticilina. É uma bactéria que vive na pele e, infamemente, pode ser pega nas academias. A infecção começa com pontinhos na pele e evolui para bolhas que viram feridas profundas, podendo acabar em fasciite necrosante. É a famosa doença da bactéria canibal, em que músculos são devorados inteiros em horas, terminando em amputações – e isso se a vítima tiver sorte.
Ninguém sabe o tamanho do problema no Brasil. Pelos números do Centro de Vigilância Imunológica de São Paulo, é possível saber que houve 1.036 infecções por Klebsiella notificadas pelos hospitais do Estado no ano passado, o que corresponde a 19% de todos os casos de infecção hospitalar. Metade, diga-se, foi provocada por KPC.
Economia perversa
Por mais fortes que as bactérias se tornem, geralmente sobra algum remédio para combatê-las. No caso da KPC, o remédio é a colistina, um antibiótico que foi praticamente abandonado nos anos 1970, porque pode causar sérios danos aos rins. E, no final das contas, talvez seja o remédio, e não a doença, que mata o paciente. Apesar disso, não dá para culpar os médicos. A velha colistina foi desengavetada por desespero. Porque essa é uma guerra que estamos perdendo. Não há opção porque novas opções não estão sendo criadas. E aqui caímos numa questão econômica particularmente perversa. Parece absurdo que, em pleno século 21, no ápice da ciência médica, quando podemos desenhar moléculas por computador para sintetizá-las, a multibilionária indústria farmacêutica não consiga encontrar uma solução para um dos piores problemas do nosso tempo. Ainda mais considerando que qualquer antibiótico novo seria um produto extremamente apreciado.
Entre a descoberta da penicilina, em 1928, e os anos 1970, a indústria farmacêutica desenvolveu 270 antibióticos. Mas tem andado cada vez mais devagar. Dos 50 maiores laboratórios farmacêuticos do mundo, apenas seis têm interesse em desenvolver antibióticos. ‘Nenhuma nova classe de antibióticos surgiu no mercado nos últimos 20 anos. Os lançamentos são só versões modificadas das drogas que já existiam’, diz Morgan.
Isso acontece por uma lógica perversa. Um novo antibiótico seria vítima do próprio sucesso. Ele imediatamente seria classificado como ‘de último caso’ – e com muita razão, pois é assim que se evita que bactérias desenvolvam resistência. Isso quer dizer que seria um remédio criado para ser vendido o menos possível. Não é difícil imaginar a posição da indústria farmacêutica a respeito.
Também há desafios científicos envolvidos. ‘Descobrir novos antibióticos é difícil’, afirma Patrice Nordmann. ‘As bactérias podem se adaptar rapidamente’, explica ele, que também ressalta o aspecto financeiro. ‘De um ponto de vista econômico, [um novo antibiótico] não é interessante para a indústria farmacêutica, porque seu período de uso é curto se comparado, por exemplo, a remédios contra diabetes.’
Talvez a tecnologia traga uma luz no futuro. Mas, até agora, é só um minúsculo ledzinho piscando. ‘Existem pesquisas que têm seguido outras linhas, como a análise do genoma das bactérias’, conta Guimarães. ‘Mas a perspectiva não é lá muito positiva.’
Não é o fim do mundo. Mas pode ser o fim de muita gente.
O que vai acontecer
Se nada mudar, qualquer cirurgia banal pode ter uma chance de receber alta pelo necrotério. Você entra para tirar uma unha encravada, sai sem os pés – se der sorte e sair. Transplantes, que exigem que o receptor use remédios que diminuem a ação do sistema imunológico, podem se tornar saudosas memórias do passado. Alguém ser entubado, o que aumenta em muito o risco de infecção, pode também se tornar proibitivo, tornando uma vasta gama de cirurgias e procedimentos muito mais perigosos.
Mas a gente tem ao menos como ganhar tempo. ‘Devemos promover o uso racional de antibióticos’, afirma Taís Guimarães. Tanto nos hospitais quanto fora deles. Porque os antibióticos mais comuns, como aqueles que você toma em casa quando está com alguma infecção não muito grave, também podem agravar o problema das superbactérias. ‘Houve um grande avanço em 2009, quando o Brasil passou a exigir a retenção das receitas na venda de antibióticos’, diz a dra. Taís. Até então, era uma anarquia: na prática, qualquer pessoa conseguia comprar qualquer antibiótico, inclusive se ela não tivesse receita. Com a retenção, a venda indiscriminada de antibióticos caiu bastante.
Mas há outro problema: na média, os médicos receitam mais antibióticos do que é realmente necessário. ‘A maioria das pessoas nunca precisa de um antibiótico. As bactérias normais tendem a dominar a flora intestinal, que se estabiliza’, afirma o dr. Morgan.
Para conter o avanço das superbactérias, é preciso atacar um terceiro ponto: os antibióticos presentes nos alimentos que comemos. Bois, porcos e frangos costumam receber antibióticos junto com a ração, mesmo se não estiverem doentes. O remédio supostamente serve para ajudar os bichos a engordarem mais rápido (o que não tem comprovação científica) e também para prevenir infecções. Estima-se que 80% de todos os antibióticos produzidos nos EUA sejam consumidos pelo gado. O resultado é o mesmo que em humanos: as bactérias nesses animais desenvolvem resistências e podem infectar pessoas. No Brasil, é proibido misturar antibiótico na ração. Mas bactérias não têm nacionalidade: uma superpraga surgida nos EUA, na China ou em outro país poderia chegar até o Brasil.
Se você está com medo agora, minha missão foi cumprida. Porque o medo às vezes é salutar. É por ele que a opinião pública – você aí na cadeira – pode acordar para o problema. Para que nasça uma pressão sobre pecuaristas, legisladores, universidades, indústria farmacêutica e os próprios médicos. O desastre está à porta. Mas ainda dá tempo de evitá-lo. Basta querer.
80% dos antibióticos produzidos nos EUA são usados na criação de animais – bois, frangos e porcos. Os bichos recebem ração misturada com antibiótico, para que cresçam mais rápido e sem doenças. Mas o uso maciço desses remédios estimula o surgimento de superbactérias – que podem acabar infectando humanos.
Fonte: http://super.abril.com.br/saude/uma-superbacteria-matou-meu-irmao/